CONCILIAÇÃO NA GUARDA FAMILIAR
Foram
inúmeras as transformações sociais e culturais que a sociedade brasileira
vivenciou no decorrer do último século. O ingresso feminino no mercado de
trabalho forçou os homens a dividirem as tarefas domésticas e participarem mais
ativamente da educação da prole. Em 1988, o conjunto de novos valores trazidos
pela nova Constituição Federal incentivou os homens a lutarem por maior
intimidade e convívio com seus filhos quando do término do casamento ou da
união estável. Felizmente, hoje a Constituição Federal prega a igualdade de
gêneros no exercício das funções parentais.
Decorrendo
da efervescência histórica e cultural do pós-guerra, a sociedade brasileira se
transformou com rapidez e clamou cada vez mais por adaptações legislativas às
novas demandas sociais, com claras repercussões no Direito de Família. Mas foi
com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que oportunizou a releitura
do Direito de Família como um todo e do instituto da guarda em particular
(Tepedino, 2004). A consagração da igualdade entre homem e mulher no exercício
dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, por exemplo, acarretou
a extinção de diversos artigos do Código Civil de 1916, que davam visível
preferência ao sexo masculino (Fachin, 1999).
A
expressão “poder familiar” foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro
por meio do Código Civil de 2002 (atualmente em vigor), indicando o conjunto de
poderes e deveres exercidos por ambos os pais em relação à pessoa dos filhos
menores e não emancipados (Grisard, 2010). Atualmente, a expressão vem sendo
substituída, acertadamente, pela denominação “autoridade parental”, que melhor
revela o espírito do instituto, abandonando a primitiva ideia de “poder” e
abrindo espaço a uma nova filosofia, em que os pais são co-titulares de deveres
e responsabilidades em relação aos filhos. O exercício do poder familiar obriga
os pais a garantir a subsistência e instrução de seus filhos, assegurando-lhes
todos os direitos fundamentais inerentes a sua pessoa.
A
partir do término da relação de um casal, esse não deveria gerar reflexos no
poder familiar, pois mesmo separados, os pais continuam obrigados a prover as
necessidades dos filhos e a lhes garantir um sadio desenvolvimento, até que
atinjam a maioridade. Na prática, a separação tem repercussões fáticas
inevitáveis, e provoca a necessária readaptação da rotina de todo o núcleo
familiar em inúmeros aspectos. Dentro dessa nova dinâmica, a preocupação com o
exercício da guarda é mais uma das muitas questões a serem abordadas pelo
casal.
A
guarda é o instituto jurídico decorrente de lei ou decisão judicial por meio do
qual o guardião recebe a incumbência de zelar por um menor de idade, agindo
diretamente em prol de seu bem-estar (Carbonera, 2010). O ordenamento jurídico
brasileiro prevê a possibilidade de apenas dois tipos de guarda: a unilateral
ou a compartilhada.
Discutir
guarda compartilhada é falar de mútua responsabilidade e de maturidade emocional
na criação dos filhos, juntamente com a cooperação esperada de um ex-casal para
o sucesso desta modalidade de custódia. O desafio dos profissionais que atuam
nesta área é identificar os casos de inaptidão de um dos responsáveis para o
exercício do compartilhamento, para que assim possam promover auxílio aos pais
para desenvolverem relações de comprometimento mútuo, aumentando as chances de
sucesso desta modalidade de guarda.
Um dos
aspectos legais passível de maior polêmica diz respeito à imposição da guarda
compartilhada na ausência de consenso do casal, prevista na nova redação do
art. 1.584, § 2o, do Código Civil. Até então, o entendimento jurisprudencial
predominante era no sentido de que a existência de litígio entre o casal
consistiria em um óbice para o exercício da guarda compartilhada, que exige
alto nível de diálogo e entendimento entre os pais para se perfectibilizar. Mas
tal posicionamento, que tinha por razão preservar o interesse do filho, acabou
por favorecer o oposto: com o fim de se obter a guarda unilateral, situações de
litígio foram fomentadas e aumentadas nas páginas processuais. Embora
em um primeiro momento pareça ser a decisão que melhor atende aos interesses
dos filhos, é importante destacar que a guarda compartilhada não se aplica a
todas as famílias. Há situações de divórcio que envolve muita raiva e
frustração entre o ex-marido e a ex-mulher, o que pode ser um grande obstáculo
para a comunicação entre o casal parental. Por consequência, a imposição da
guarda compartilhada pode não ter nenhuma repercussão na prática.
Como
forma de meio alternativo para a resolução da lide entre os litigantes e para
favorecer suas relações para com a prole, sem que ajam consequências
inconsequentes para os envolvidos, faz-se o uso da conciliação. A
conciliação implica na atividade do conciliador, que atua na tentativa de
obtenção da solução dos conflitos sugerindo a solução sem que possa,
entretanto, impor sua sugestão compulsoriamente, como se permite ao árbitro ou
ao juiz empossado. O conciliador tenta demover as partes a solucionar o
conflito acatando suas ponderações e alternativas para a resolução do conflito
que, no entanto, depende da anuência das partes. (SCAVONE. 2016, manual de
arbitragem-mediação e conciliação, 7ed. Pg275).
Há
diversas vantagens de se resolver conflitos com a Conciliação, tal como a
rapidez proporcionada pela conciliação, da qual se pode resolver tudo em um
único ato (podendo haver mais sessões, para finalizar, se for do interesse das
partes) e não precisa de produção de provas; a busca por um conciliador
externo ao Poder Judiciário, ou a busca por Núcleos de Conciliação
estabelecidos pelos Tribunais de Justiça, reduzem significativamente os custos,
quando comparados a um processo judicial. Uma conciliação bem sucedida ocorrida
em audiência de conciliação após a propositura de uma ação judicial gera
economia às partes em custas processuais, eventual produção de prova, além do benefício
emocional de se evitar o litígio. Resolver conflitos através da conciliação é
muito eficaz, pois ambas as partes chegam à solução de seus conflitos
sem chegar até a imposição de um juiz. A Conciliação, além de tudo, é uma
maneira pacífica de resolver conflitos, por se tratar de um ato espontâneo e
voluntário, de comum acordo entre as partes. (FRANZONI Larissa.
2016).
REFERÊNCIAS:
-SCAVONE, Luiz A. Jr. Manual
de Arbitragem-Mediação e Conciliação, 7. Ed. Rio de janeiro: Forense, 2016.
-CARBONERA, S. M. (2000). Guarda de filhos na família
constitucionalizada. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris.
-FACHIN, L. E. (1999). Elementos críticos do direito de família:
curso de direito de família. Rio de Janeiro: Renovar.
-FRANZONI, L. Advogada especialista em Direito de Família e
Sucessões e Gestão e Direito Tributário, 2016
-GRISARD Filho, W. (2010). Guarda compartilhada: um novo modelo de
responsabilidade parental. (5a ed.) São Paulo: RT.


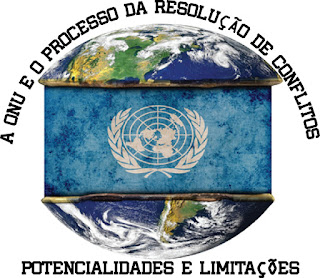
Comentários
Postar um comentário