Reforma Agrária seus Conflitos e as Possíveis Soluções por Meio da Mediação
INTRODUÇÃO
A questão fundiária do
Brasil é antiga, pautando-se pela justa distribuição da terra para atender o
produtor e o desenvolvimento da produção no Brasil. Nesse sentido, as políticas
de acesso à terra precisam estar atreladas de modo que não haja concentração
fundiária, até mesmo pela necessidade de erradicar a pobreza no país. No decorrer
da história os movimentos sociais engendrados pelos camponeses, povos indígenas
e comunidades tradicionais foram responsáveis por articular a luta pela
conquista da terra. Todavia, mesmo com os progressos conquistados ao longo dessa
trajetória histórica, ainda não se tem uma solução estruturada para enfrentar
os conflitos agrários por se tratar de uma questão complexa e polêmica. Uma
solução que vem sendo discutida para os conflitos é a mediação. Assim, o artigo
tem como objetivo discutir sobre a reforma agrária seus conflitos e as
possíveis soluções por meio da mediação.
DESENVOLVIMENTO
O termo reforma agrária
se refere à distribuição, posse e uso de terras. No cenário brasileiro, ela foi
colocada em discussão ao final de 1950, com as discussões das chamadas reformas
de base, principalmente através das reformas: agrária, bancaria, urbana e estudantil
(STEDILE, 2013).
A reforma agrária ganhou
destaque devido ao apelo popular pelo término dos latifúndios e por melhorias,
no campo, das condições de vida. Essa distribuição das terras para pequenos
produtores, além de minimizar as desigualdades sociais, tornaria as terras mais
produtivas, melhorando a economia brasileira.
O Estatuto da Terra, no
período da Ditadura Militar, vigente até os dias atuais foi à primeira
declaração oficial da reforma agrária no Brasil. Esse documento versa sobre a
responsabilidade do Estado em garantir a terra para aquele que nela vive e
trabalha. No decorrer das últimas décadas houve a criação do Plano Nacional de
Reforma Agrária (PNRA); a extinção do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), bem como, sua volta com a Criação do Ministério
Extraordinário de Política Fundiária e da criação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) (MARTINS, 2000).
Cabe salientar que todas
essas iniciativas culminaram para a criação de uma política direcionada à luta,
em prol da reforma agrária, agregando a sustentabilidade rural em prol da
democratização da terra. Lembrando, que o MST teve um importante papel nessa
luta e pela transformação social do país (STEDILE, 2013).
Entretanto, apesar dos
importantes avanços na política fundiária brasileira, estas não foram
suficientes para resolver as demandas pela democratização do acesso a terra. O
fato é que o contexto dos conflitos fundiários se apresenta de forma velada no
dia a dia das organizações civis e movimentos de direitos humanos, atuando
desde o ponto de vista da assistência jurídica a defesa popular.
O
protagonismo judicial, nesse cenário, tornou-se mais amplo, exigindo a busca
por alternativas voltadas à mediação dos conflitos fundiários, no Brasil, de
modo pacifico, repensando a cultura do litígio (BRASIL, 2013).
A resolução de conflitos
agrários vem sendo discutida em pesquisas com vistas à formulação de políticas
públicas de mediação para a questão agrária e a complexidade que a envolve. Alguns
caminhos estão em tramite, no judiciário, para mudar essa realidade e resolver
os conflitos fundiários de maneira mais eficiente (VIANA, 2014).
O primeiro passo já foi
dado com a aprovação do Projeto de Lei do Senado n. 406/2013 que trata da
mediação. Tem-se também a pretensão de
se criar um curso voltado para a mediação englobando políticas públicas,
direcionado aos setores públicos que atuam em conflitos fundiários. Bem como a
criação de um cadastro nacional para mediadores, que se encontra em andamento
com apoio do Ministério da Justiça.
Já houve conflitos
bastante violentos envolvendo a questão agrária e a mediação foi importante na
resolução do mesmo. O caso ocorreu em Comodoro, Mato Grosso, no ano de 2017, em
que três mediadores judiciais ligados ao Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado,
conseguiram pacificar 500 famílias que ocupavam uma área no município (SAITO,
2017).
A terra em disputa era
parte de massa falida de um complexo de propriedades pertencentes a uma empresa
presente em varias regiões do Brasil. A intervenção dos mediadores foi exitosa,
impediu o confronto armado com a polícia, conseguindo a retirada pacifica das
famílias da área ocupada.
A análise em torno de
algumas experiências público-institucionais de mediação de conflitos fundiários
rurais revelou que esses conflitos se traduzem em um contexto de extrema
complexidade de judicialização que exige do judiciário uma abordagem planejada
e incorporada em suas diferentes categorias e condutas forenses (BRASIL, 2013).
Dessa forma se faz
necessário a capacitação dos agentes encarregados para solucionar os conflitos.
Ainda o uso de meios dialógicos, comunicativos e alternativas extras judiciais
como audiências e mediação pública. Visão panorâmica para que se possa
vislumbrar uma abertura organizacional da autoridade jurídica para a tomada de
decisão junto aos agentes sociais e instituições públicas.
Diante do exposto cabe
ainda pontuar que a organização fundiária brasileira é fruto de um processo de colonização
marcado pela exploração e orientado por uma elite econômica ruralista, diga-se
exerceu grande influência nas decisões políticas da nossa nação até o fim da
Primeira Republica, quando as classes sociais mais oprimidas começam a clamar por
representação política.
No cumprimento dos
mecanismos constitucionais nos arts. 186 a 191 verifica-se a função social da
posse da terra enquanto preceito essencial ao bom andamento do sistema
econômico e social, ou seja, a exigência de se cumprir a finalidade da função
social da terra através da ação do Estado (BRASIL, 2016).
Ao examinar os entraves
impostos a concretização da reforma agrária em nosso país e as possíveis causas
para essa situação que se arrasta. Um desses obstáculos é a espinhosa aplicação
do instituto da desapropriação que se depara com entraves históricos, políticos
e ideológicos arraigados, ainda que, perante a ótica jurídica existe uma base
legal significativa de sustentáculo para a efetivação do instituto, diga-se de
passagem, sem o qual a reforma agrária não acontece.
É notória que a
desapropriação, é a forma pela qual o poder estatal determina limites à
propriedade privada. Conforme o legislador Mello (2001) a desapropriação pode
ser definida como:
[...] o procedimento
através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade
pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem certo,
normalmente adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante indenização
prévia, justa e pagável em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou
rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente
caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública,
resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real (MELLO, 2013,
p. 882).
Pela leitura fica claro
que legislador ao conceituar a desapropriação enfatiza sua finalidade de preservar a função social, modo
legal constituída pela nossa Lei maior que em seu art. 22, II, declara ser de competência
exclusiva da União legislar sobre tal
instituto.
Assim, na ordem jurídica,
a desapropriação se constitui no mais relevante instrumento para a efetivação
da reforma agrária, todavia tenha-se o entendimento da possibilidade de sua
promoção através de outros meios como, por exemplo, a tributação gradativa
sobre propriedades rurais extensas, promoveria a desestímulo a agregações
fundiárias, alcançando do mesmo modo os
propósitos de uma reforma.
O fato é que o assunto em
voga é polêmico e envolve a avaliação cautelosa de vários fatores: históricos,
culturais, sociais, políticos, econômicos, ideológicos e jurídicos e nesse
sentido é importante que haja investimento do poder público nesta demanda,
pois, entende-se como fundamental a mediação na relação entre a população e o estado
de modo a atender os anseios populares em relação à propriedade e a realização
da função social.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Percebe-se que as
pesquisas apontam para uma análise das práticas públicas organizacionais de
mediação, no sentido de investigar meios avançados e culturas institucionais arquitetadas
para que se avance quanto à falta de capacidade e obstáculos institucionais e
judiciais no tocante aos conflitos agrários.
REFERENCIAS
BRASIL,
Ministério da Justiça. Casos
emblemáticos e experiências de mediação: análise para uma cultura institucional
de soluções alternativas de conflitos fundiários. Brasília: Ministério da
Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 2013.
______.
Senado Federal. Projeto de Lei do Senado
n° 406, de 2013. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114641>
Acesso: 25 mar. 2019.
______.
[Constituição (1988)] Constituição da
República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de
outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais
de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e
pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação
de Edições Técnicas, 2016.
MARTINS,
José de Souza. Reforma agrária: o
impossível diálogo sobre a História possível. Tempo Social; Rev. Sociol. USP,
S. Paulo, 11(2): 97-128, out. 1999 (editado em fev. 2000).
MELLO,
Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013.
SAITO,
Lígia. Mediação
promove pacificação social de 500 famílias em Comodoro. Jornal do Advogado, 2017. Disponível em: <http://jornaladvogado.com.br/jornal-impresso/>
Acesso: 08 abr. 2019.
STEDILE,
João Pedro (org.). A questão agrária no
Brasil: debate sobre a situação e perspectiva da reforma agrária na década
de 2000. São Paulo: Expressão Popular, 2013.
VIANA,
Cintia Portugal. Mediação como Política Pública de Estado em Conflitos
Fundiários Urbanos no Brasil: reflexões sobre a proposta do Artigo 579 do
Projeto do Novo Código do Processo Civil – CPC. O Social em Questão - Ano XVIII - nº 31 – 2014.


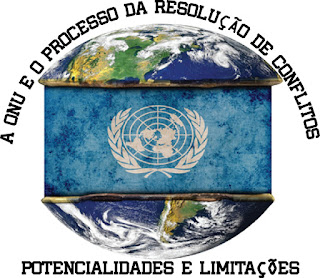
Comentários
Postar um comentário